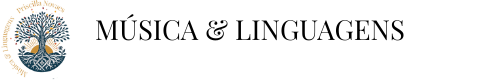Há mais de meio século, J. R. R. Tolkien advertiu um grupo de estudiosos de Oxford de que o termo “celta” era uma bolsa mágica — onde se colocava de tudo e de onde podia sair qualquer coisa. Ele falava da linguística, mas a metáfora atravessa o tempo: por séculos, a Europa projetou seus sonhos, medos e ideais nessa palavra que, mais do que um povo, tornou-se um espelho de si mesma.
Barry Cunliffe, arqueólogo britânico e autor de The Celts: A Very Short Introduction, traça com precisão esse fascinante percurso de invenções e descobertas. O livro não fala apenas sobre os celtas — fala sobre nós, sobre a forma como cada época escolheu ver seu próprio passado.
A invenção do “celta”
Os primeiros registros aparecem na Grécia do século VI a.C., quando Hecateu de Mileto descreveu povos chamados Keltoi no coração da Europa. Depois vieram os relatos de César, Estrabão e Diodoro da Sicília, que os viam como guerreiros altivos, de bigodes imponentes e espadas longas. Mas se dependêssemos apenas da arqueologia, veríamos algo bem mais prosaico: comunidades tribais, aristocráticas, marcadas por túmulos ricos e arte refinada. O heroísmo veio depois — das canetas dos poetas e dos sonhos dos românticos.
Com o declínio do Império Romano, o mundo esqueceu os celtas. Durante mil anos, seus nomes desapareceram das páginas. Só no Renascimento, com a redescoberta dos textos clássicos, eles voltaram à cena — não como bárbaros, mas como ancestrais nobres das nações modernas. O século XVI foi o momento do despertar arqueológico: humanistas como John Leland e William Camden, na Inglaterra, e Jean Le Fèbvre, na França, começaram a buscar nas ruínas e nas lendas as “raízes” de cada povo.
Do “selvagem nobre” à febre celta
A descoberta do Novo Mundo incendiou a imaginação europeia. De repente, era possível comparar tribos da Bretanha pré-romana com os povos indígenas da América. Nascia a ideia do “bom selvagem” — um eco renascentista de Posidônio, filósofo grego que via nos celtas antigos uma pureza perdida. O homem que vivia em harmonia com a natureza, guiado por instintos e coragem. Assim, os druidas e bardos tornaram-se símbolos de uma Europa idealizada, ainda não corrompida pela civilização.
Nos séculos XVII e XVIII, essa fascinação transformou-se em celtomania. Antiquários e eruditos passaram a ver em cada monumento megalítico uma herança druídica. William Stukeley, o pai da arqueologia britânica, publicou em 1740 e 1743 seus estudos sobre Stonehenge e Avebury, afirmando que haviam sido templos druídicos. Sua fé era tamanha que todo círculo de pedras passou a ser “celta” por definição. O entusiasmo cruzou o Canal da Mancha: na França, Paul-Yves Pezron e Jacques Cambry publicaram tratados que ligavam os megálitos bretões a uma nação celta unificada. A imaginação superou a evidência — e criou uma tradição.
Foi também o tempo das falsificações poéticas. James Macpherson, um escocês de espírito empreendedor, publicou entre 1760 e 1763 os supostos poemas do bardo Ossian — epopeias “gaélicas” que comoveram Goethe e Napoleão, embora fossem pura invenção. Mesmo assim, os versos falsos incendiaram o orgulho nacionalista e deram aos escoceses um passado heróico digno da Ilíada.

A arqueologia devolve o chão
No século XIX, a ciência começou a impor limites à fantasia. As escavações em La Tène, na Suíça, e nas tumbas de Champagne revelaram uma cultura material coerente — e, pela primeira vez, foi possível associar “celtas históricos” a evidências tangíveis. Nascia uma nova disciplina: a arqueologia como narrativa das origens.
Mas ainda assim, o impulso ideológico persistia. Cada nação europeia quis ver-se nos celtas: a França como herdeira de Vercingetórix, a Irlanda como guardiã da alma celta, a Grã-Bretanha como elo entre o mito druídico e o império moderno. Os celtas tornaram-se moldáveis — guerreiros, poetas, agricultores — conforme a necessidade de cada época.
A partir de 1870, a arqueologia ganhou prestígio e se uniu ao nacionalismo. Os celtas passaram a representar tanto a resistência quanto a conciliação. Durante a Segunda Guerra Mundial, monumentos foram erguidos na França exaltando a “honra gaulesa” e a reconciliação com Roma — uma metáfora para a nova unidade europeia que renasceria após o conflito.
A mudança de olhar
Nos anos 1970, o conceito de “celta” começou a ser revisto. As escavações revelaram uma teia complexa de trocas comerciais e influências culturais — muito além da ideia de tribos isoladas ou invasões súbitas. A arqueologia, cada vez mais interdisciplinar, passou a enxergar os oppida (cidades fortificadas) como centros de uma economia florescente, interligada por rotas de comércio que iam da Gália à Península Ibérica.
Cunliffe propôs então um modelo mais fluido: os celtas não seriam uma “raça”, mas uma rede de povos conectados por língua, valores e estética. Um vasto arco cultural que, assim como o mundo grego, compartilhava mitos e símbolos sem precisar de fronteiras fixas.
Essa visão se fortaleceu no fim do século XX, com exposições como The Celts: The Origins of Europe (Veneza, 1991), patrocinada pela Fiat. O catálogo trazia uma frase emblemática: “A nova Europa não pode existir sem uma consciência de sua unidade — e essa unidade também tem raízes celtas.” O presidente francês François Mitterrand chegou a financiar escavações em Bibracte como emblema desse “renascimento europeu”.
Mito, ciência e identidade
Hoje, o termo “celta” continua desafiando classificações. Novas escavações, análises genéticas e estudos linguísticos questionam a própria validade étnica da palavra. Para alguns, os celtas são uma ficção útil; para outros, uma herança viva, expressa na música, nas línguas bretã e gaélica, na arte que sobreviveu aos impérios.
Cunliffe sugere que talvez devamos ver o “mundo celta” não como uma civilização desaparecida, mas como um fio de continuidade — um conjunto de ecos que ainda ressoam na Europa contemporânea. Dos símbolos trançados às melodias modais que inspiram músicos como Carlos Núñez, há algo nesse passado que insiste em permanecer.
Afinal, a história dos celtas é também a história de como reinventamos nossas próprias origens: ora com o rigor da ciência, ora com a poesia do mito.
A bolsa mágica ainda está aberta
O aviso de Tolkien continua atual. “Celta” é, sim, uma bolsa mágica — e talvez por isso fascine tanto. Dentro dela cabem os sonhos de uma Europa que busca unidade sem uniformidade, raízes sem muros.
Cada geração mergulha nesse símbolo e retira o que precisa: os românticos viram liberdade, os arqueólogos viram dados, os artistas veem identidade.
O mais belo, talvez, seja perceber que essa “bolsa mágica” não é um erro, mas um espelho — um espelho que nos devolve a pergunta essencial: quem somos quando olhamos para o passado em busca de nós mesmos?
📚 Referências
CUNLIFFE, Berry “‘The Ancient Celts, Second Edition ” – OUP Oxford, 2018

Texto: Priscilla Novaes
📍 Música&Linguagens | Cultura Celta— Novembro de 2025