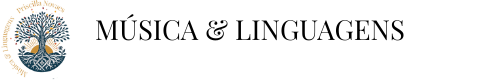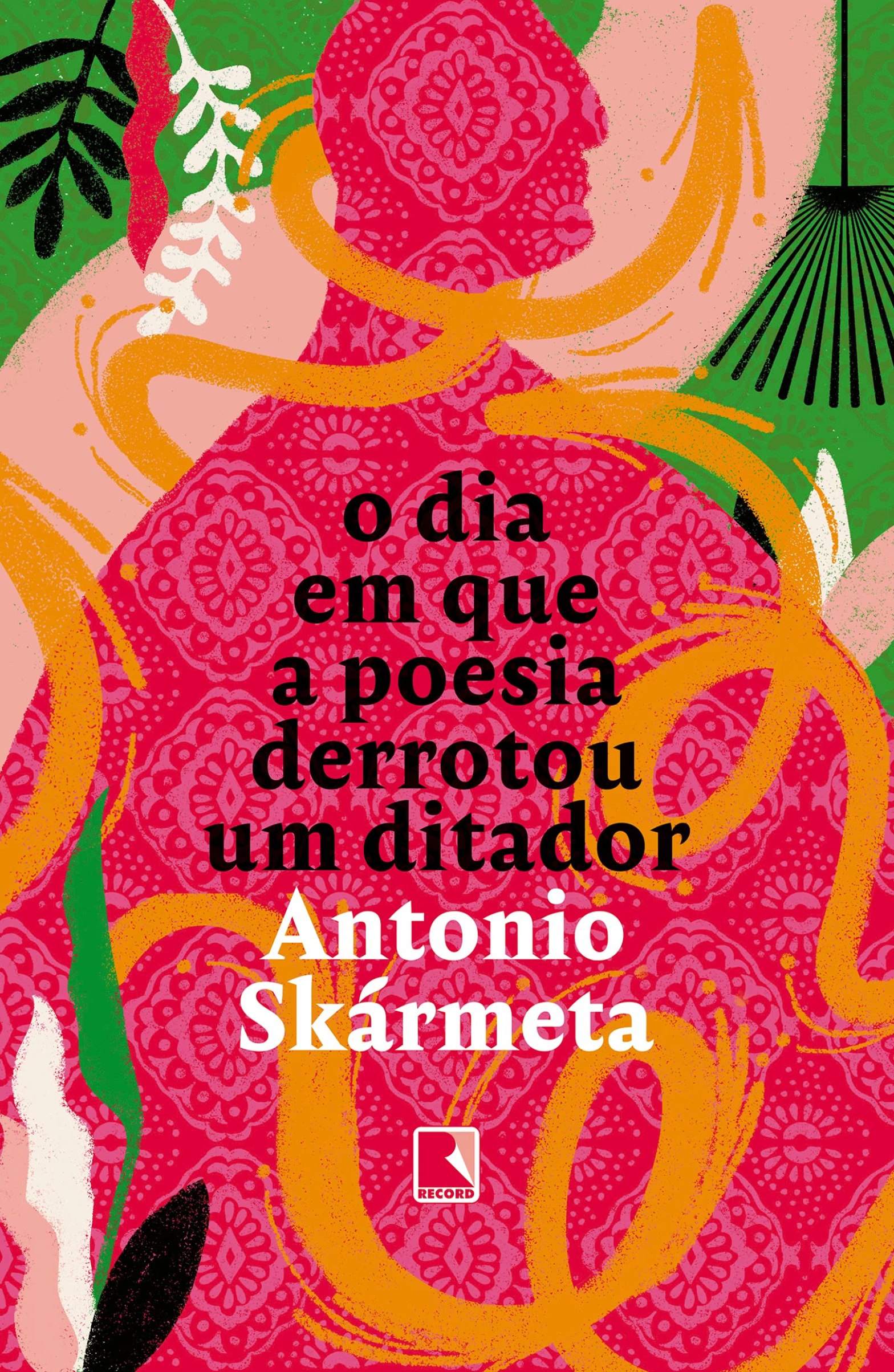Estou lendo O dia em que a poesia derrotou um ditador é um romance profundamente carregado de memória histórica e sensibilidade política, no qual Skármeta ficcionaliza o clima do Chile pré-plebiscito de 1988, quando a ditadura de Augusto Pinochet permitiu, pela primeira vez, que a população dissesse sim ou não à continuidade do regime. A narrativa do livro gira em torno de pessoas comuns tentando respirar, criar e sobreviver sob um sistema que controla a arte, a propaganda e, sobretudo, a esperança.
✦ Tema central do livro
O romance aborda o poder da arte — especialmente da poesia — como força política, emocional e transformadora, capaz de enfrentar até mesmo um regime autoritário. Não se trata de uma narrativa sobre guerra armada, mas sobre a coragem silenciosa, cotidiana, que nasce das palavras, da memória, da música e do desejo coletivo de liberdade. Skármeta mostra que a resistência também pode ser feita de afetos, de música que circula escondida, de cartazes improvisados e de gente comum ousando existir com dignidade.
Uma coisa que se destacou nessas primeiras páginas foi quando Adrian olha para a cordilheira e comenta o orgulho amargo de ser considerado o melhor publicitário do Chile e mesmo assim estar desempregado — é como se o autor revelasse o absurdo moral da ditadura:
no país onde a publicidade foi silenciada, até o talento é visto como ameaça.
Ele reflete sobre propostas de trabalho que seriam ofensivas, indignas, quase torturantes — como se o regime quisesse comprar sua voz ou transformá-la em arma de propaganda. Seu discurso é uma mistura de ironia e de dor: ele sabe que seu ofício pode libertar, mas também pode servir ao opressor. E é justamente aí que mora o dilema ético que Skármeta quer expor.
A cidade parece ter perdido as palavras, os cafés estão vazios, a publicidade morreu — mas o desejo de criar ainda pulsa, tímido, respirando fundo diante da cordilheira. Skármeta mostra que coragem não nasce pronta: ela é hábito, é teimosia, é a decisão diária de existir. Talvez é assim que a poesia derrota ditadores: sobrevivendo, mesmo quando parece impossível.
De verdade estou sendo impactada por esta leitura, pois muitas coisas eu não entendia de fato. Talvez porque eu realmente não estive lá nos anos 80, para ser mais especifica de 84 á 90 – pois antes, nem nascida eu era. Só chegamos ao Chile em 92, dois anos depois do fim da ditadura. Lembro bem de Patricio Aylwin Azócar sempre muito querido, e do clima do pais, as pessoas ainda sem saber que rumo tomar com uma grande ferida que ainda doia. Mas tudo o que aconteceu antes, como Pinochet foi derrubado, o plebiscito de 1988 e as eleições presidenciais em 1989, não era muito claro para mim.
Trecho sobre Adrián Bettini e Patricia
O trecho acompanha Bettini em um momento íntimo: ele chega tarde em casa, aquieta o corpo com comida requentada, vinho e silêncio. Uma pausa que contrapõe o turbilhão político ao redor. Na penumbra, sua filha Patricia dorme. E é ali, diante da vulnerabilidade e da juventude dela, que explode a inquietação que o consome: a pergunta sobre o voto no plebiscito.
Patricia representa a juventude chilena daquela época — cansada, desacreditada, marcada pela desesperança herdada de anos de ditadura. Ela responde que vai votar “Não”, mas o que Bettini realmente quer saber é por que ela não votaria. E aí surge a fratura geracional:
— Este país não tem saída.
Essa frase é uma ferida aberta no livro. Para Bettini, que já foi preso, torturado e teve sua clavícula quebrada, a luta ainda parece possível — ainda que dolorosa. Para Patricia, porém, o horizonte já está manchado demais. Ela vê o Chile mutilado, a democracia ferida, a cultura apagada. Não acredita que um papel numa urna derrube um ditador armado.
Sabe, eu entendo bem Patricia — e ela não está errada em sentir isso. Porque, afinal, o que jovens estudantes poderiam fazer? Sair às ruas com cartazes, gritando, protestando? No máximo receberiam um tiro, seriam presos, desaparecidos. Não trariam mudança alguma além do risco real de morrer. O peso dessa impotência é imenso. Quantos, como ela, não olharam para o próprio país e enxergaram um beco sem saída? Por isso tantos jovens fugiram, exilaram-se, reconstruíram a vida longe da terra que amavam. “Este país não tem saída” ecoa como verdade emocional daquela geração.
Outra coisa que o trecho revela — e que senti profundamente — é a dor de ver o Chile belo, poético, vibrante ser dilacerado pela ditadura. É como uma mácula que permanece. Mesmo depois do fim do regime, muitos jamais retornaram. Porque voltariam para quê? Aquela pátria que lembravam — colorida, musical, livre — não existia mais. Foi devastada.
E isso me lembrou Los Jaivas, especialmente a voz de Gato Alquinta em La conquistada:
Como un recuerdo que me llega
De su corazón
Ella no existe más
Ella (la patria) es una nube
Que el viento conquistó.
Essa canção parece escrita para Patricia. Para todos que viram o país se desfazer diante dos olhos. Para os que ficaram — mas também para os que partiram, carregando o Chile apenas como lembrança, como cheiro, como nuvem.
Bettini, mesmo derrotado, tenta reacender nela uma chama que o mundo apagou. Ele a desperta no meio da noite apenas para perguntar: “Você vai votar no plebiscito?” Não é sobre política — é sobre não desistir. Sobre acreditar que ainda resta algo a ser salvo.
Mas Patricia, com sua franqueza dolorida, devolve a realidade crua:
“Fará o que?
Acabar com Pinochet?
Nada.”
Entre os dois existe amor, existe dor, existe um país partido ao meio. O pai quer lutar. A filha só quer sobreviver.
E talvez seja assim mesmo que um povo atravessa a história: metade resiste, metade tenta não morrer. Ambas estratégias são válidas. Ambas são humanas.